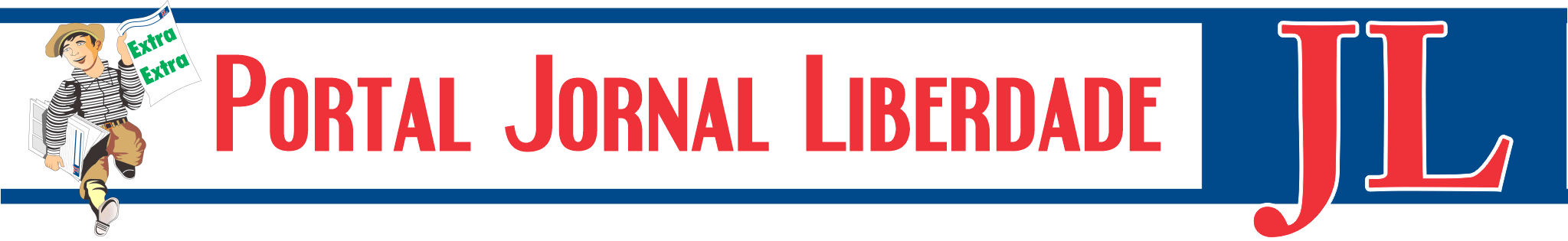O Silêncio do Quarto ao Lado: A Arquitetura dos Espaços e a Separação dos Afetos
Coluna
Por Jornal Liberdade 34 min de leitura
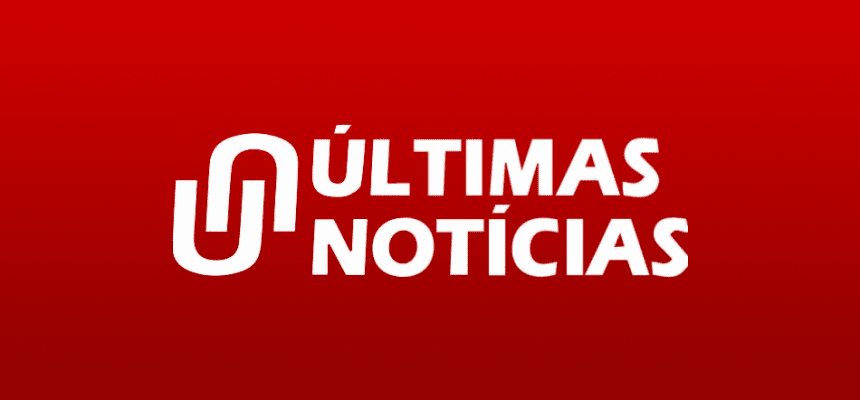
“Filha, desce aqui, vamos ficar juntos, vem ficar com seus irmãos”, grita a mãe do andar de baixo para a adolescente que se encontrava em seu quarto no andar de cima. A frase ecoa pelo amplo, moderno e sofisticado imóvel de 1450 metros quadrados que a família acaba de adquirir. Nesse momento, a mãe, uma arquiteta que alcançou o sucesso profissional, percebe que aquela bela obra arquitetônica em nada poderia ajudá-la, ou à sua família, naquilo que de fato eles mais precisavam – estar mais próximos e sentirem a presença afetiva uns dos outros.
A cena descrita não é um fato isolado. Ao contrário, tem sido a experiência da maioria dos pais, mães, filhos, avós, tios e tias Brasil e mundo afora. Nossas casas estão cada vez mais belas, funcionais, sofisticadas e confortáveis. Porém, esse progresso material e estético contrasta com o crescente distanciamento entre os membros das famílias. Será que, ao mesmo tempo em que nossas casas se tornam mais aconchegantes, estamos nos tornando afetivamente menos conectados? Até que ponto a arquitetura dos nossos lares está moldando nossas relações afetivas – ou será que ela apenas reflete o distanciamento que já se instalou? Por que, mesmo em lares cheios de conforto e tecnologia, como também em pequenas e apertadas habitações familiares temos tanta dificuldade em simplesmente estarmos juntos? Dividir o mesmo teto é suficiente para que vínculos significativos se formem e se mantenham?
Independentemente do tamanho ou do conforto que as casas das famílias tenham, pessoas começam a perceber que os espaços arquitetônicos de suas casas, caso não tenham sido projetados para afastar, na prática do cotidiano, mais afastam do que aproximam as pessoas. A chamada “Geração do Quarto” é um fenômeno que tem chamado a atenção de estudiosos. Refere-se ao comportamento de jovens que passam mais tempo isolados em seus quartos do que em interação com seus familiares. Esse isolamento, por si só, já é preocupante. Entretanto, o problema revela um paradoxo: quanto mais isolados em relação às suas famílias os jovens permanecem, mais tendem a expor sua intimidade nas redes sociais. Estaríamos valorizando a privacidade ou cultivando, sem perceber, um tipo de solidão silenciosa dentro dos lares? Por que estar na presença dos pais ou familiares tem sido uma experiência perturbadora ao invés de terapêutica?
O fato é que a arquitetura moderna passou a privilegiar o indivíduo. Isso acontece porque ela não se limita ao planejamento técnico ou à expressão artística dos espaços – ela é também um discurso, uma ideologia, uma forma de pensar e operar no cotidiano. Cada projeto carrega uma visão de mundo, uma racionalidade específica, que molda não apenas as formas dos ambientes, mas também as formas de se viver nestes ambientes.
Le Corbusier, um dos principais expoentes da arquitetura moderna, sintetizou essa visão ao definir suas casas como “máquinas de morar”. Nessa expressão, ele revelava sua crença na arquitetura como instrumento de funcionalidade máxima – uma estrutura racional, limpa, despojada de ornamentos, pensada para atender às necessidades humanas com precisão e eficiência.
Funcionalidade: esse é um conceito-chave. Para Le Corbusier, a casa ideal deveria servir aos novos modos de vida da modernidade, refletindo o espírito de uma nova era. Era preciso, portanto, usar novas ferramentas e linguagens para construir uma nova forma de habitar. Em seus projetos, ele buscava integrar os espaços, sim – mas também começou a valorizar áreas mais privadas, numa tentativa de equilibrar o convívio familiar com uma demanda crescente por individualidade.
Esse novo arranjo espacial dialogava diretamente com a ascensão das famílias nucleares e com os valores emergentes de autonomia, organização e produtividade. No entanto, ao atender às exigências do tempo moderno, a arquitetura também passou a refletir – e a reforçar – uma cultura voltada para o isolamento e a fragmentação do cotidiano familiar.
Com o tempo, essa lógica arquitetônica funcionalista foi se consolidando e se espalhando mundo afora, influenciando o modo como casas, apartamentos e até mesmo condomínios inteiros passaram a ser projetados. Os ambientes se tornaram cada vez mais setorizados, compartimentalizados e voltados para a autonomia de cada indivíduo dentro do lar. A sala de estar, e principalmente a cozinha, deixou de ser o coração da casa; os quartos se transformaram em verdadeiros refúgios privados, muitas vezes equipados com tudo o que se precisa para viver: cama, TV, computador, geladeira, banheiro, conexão com o mundo – mas não com a família.
Nesse contexto, a casa moderna passou a operar como um pequeno conjunto de unidades autônomas sob o mesmo teto. Cada morador vive sua rotina quase como se habitasse um pequeno apartamento dentro da própria casa. As refeições em conjunto se tornaram raras. O silêncio substituiu a conversa. E a convivência, antes espontânea e cotidiana, passou a depender de agendamentos, convites, datas especiais e, muitas vezes, de tentativas frustradas.
É importante salientar que o espaço físico influencia silenciosamente. Ele ensina o corpo a se mover, a se posicionar, a se esconder ou se mostrar. Ensina, também, como e quando se deve interagir com o outro. Quando o espaço valoriza a separação, a individualização e o fechamento, ele contribui para a construção de subjetividades mais solitárias e desconectadas, mesmo quando há presença física sob o mesmo teto.
Assim, a arquitetura da casa moderna não é apenas um pano de fundo neutro: ela atua como um agente ativo na construção das relações humanas. Ao mesmo tempo em que garante conforto e privacidade, também pode comprometer o estabelecimento de uma lógica de interação entre familiares que privilegia o encontro. E se não houver intencionalidade, afeto e disposição para o convívio, a arquitetura acaba por reforçar o que já está em curso: o distanciamento afetivo, a produção do desencontro e o enfraquecimento da unidade, correndo o risco de se tornar, paradoxalmente, uma máquina de afastar.
Se, por um lado, o quarto é o espaço da liberdade, da privacidade, da experimentação do prazer, da descoberta de si e da transgressão silenciosa; por outro, ele também se torna, cada vez mais, o cenário do sofrimento silencioso. É ali, entre quatro paredes, que muitos jovens experimentam crises emocionais profundas, choram calados, sentem medo, angústia, ansiedade, solidão. Seus gritos de socorro são mudos – ou não são ouvidos ou ignorados por aqueles que estão do outro lado da porta, absorvidos por suas próprias rotinas ou anestesiados pela psicologia da indiferença que, sorrateiramente, invadiu as relações familiares.
Chama a atenção o número crescente de pessoas – especialmente adolescentes e jovens – acometidas por ansiedade, depressão e outras psicopatologias. Não se trata de uma casualidade isolada. Em muitos casos, o sofrimento psíquico carrega raízes profundas nas relações familiares. A casa da família, que deveria ser lugar de cuidado e acolhimento, torna-se, para alguns, um espaço de afastamento afetivo, de cobrança desproporcional, de silêncio hostil ou de presença ausente.
Sob uma perspectiva sistêmica, a família é compreendida como uma unidade complexa, formada por partes que se inter-relacionam. Cada membro influencia e é influenciado pelo outro. Portanto, o adoecimento de um indivíduo não pode ser analisado de forma isolada. Se um membro da família adoece, isso afeta o sistema como um todo; e, inversamente, um sistema familiar adoecido tem alto potencial de impactar a saúde emocional de seus integrantes.
A saúde do indivíduo e da família está profundamente ligada à qualidade dos vínculos nela estabelecidos. Relações funcionais, baseadas em comunicação aberta, respeito à individualidade, disposição para resolver conflitos, suporte mútuo, confiança e, sobretudo, afeto, são os verdadeiros pilares da saúde familiar. O afeto, muitas vezes negligenciado em nome da correria cotidiana ou das exigências do mundo externo, é o elo vital que une e sustenta a unidade familiar.
A família não pode se limitar a ser apenas uma instituição social, cultural, educativa ou econômica. Antes de tudo, precisa ser uma unidade afetiva. Um lugar de refúgio emocional, de partilha verdadeira, de amparo incondicional. Não é possível pensar, de forma plena, a saúde mental e emocional de um indivíduo sem considerar o contexto relacional familiar em que ele está inserido. Há um programa estatal cujo nome é “minha casa minha vida”. Por mais que seja importante e necessária, uma casa não deveria significar em si, vida para ninguém. É preciso pensar num programa “minha família minha vida”.
Relações familiares podem ser tanto um fator protetivo quanto um fator de risco. Podem ser um ninho ou uma prisão. Um porto seguro ou um campo de batalha. Por isso, se quisermos construir uma sociedade mais saudável, precisamos começar pelas famílias – e não apenas pelas casas, suas plantas ou fachadas, mas pelas relações que ali se desenvolvem. Porque nenhuma casa ou arquitetura, por mais bela e funcional que seja, será capaz de substituir o que realmente nós precisamos para viver com saúde: sentir que somos alvo do afeto daqueles com quem convivemos, e a nossa a capacidade de demonstrar afeto por estes, que, provavelmente, sejam os que mais necessitam dele.